Discos do mês - Agosto de 2020
Fabricio C. Boppré |Imagem principal:
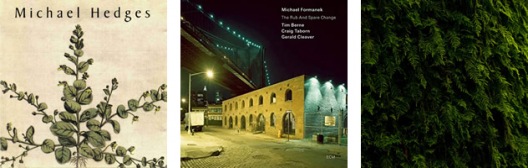
Texto:
Michael Hedges - Taproot
São irresistíveis estes discos do Michael Hedges. Não nego que o sentimentalismo encharcado de sua música chega a resvalar perigosamente no brega, principalmente a partir de seu terceiro disco, Watching My Life Go By (1985), quando ele começou a cantar em suas gravações (os dois primeiros álbuns são completamente instrumentais), mas nada disso me incomoda, antes o contrário — é parte essencial do encanto desta música que ficou calcificada no tempo. Antes de morrer em um acidente de carro em 1997, Hedges nos deixou um punhado de discos que são como bálsamos para o espírito. Não sei dizer qual meu preferido: os dois primeiros, Breakfast in the Field (1981) e Aerial Boundaries (1984), são obras-primas inequívocas para quem gosta do som humano e caloroso do violão; o quarto, Taproot, de 1993, tem Hedges cantando um poema de E. E. Cummings na faixa que é, possivelmente, minha favorita dentre todas as que já ouvi de sua discografia. São todos discos que me tocam muito. Há ainda, eu não poderia deixar de sublinhar, os pontos de contato de sua música com a New Age, gênero ou sub-gênero ou extravagância pela qual, como sabem os que ocasionalmente me lêem por aqui, morro de amores inexplicáveis e incorrigíveis. Mas não se trata da New Age clássica que todos nós que estávamos neste planeta durante os anos 80 nos lembramos (os mais ajuizados talvez já tenham tido sucesso em seus esforços de esquecê-la); trata-se de algo mais rarefeito por um lado e mais depurado por um outro, um bálsamo que, a despeito das qualidades terapêuticas, abriga também uma séria contraindicação: se aplicado com muita atenção e muito afinco, em especial por aqueles mais vulneráveis, a nota melancólica presente em quase todas as canções pode rapidamente passar a ser interpretada como uma espécie de presciência, uma compreensão antecipada de nosso destino, como se Hedges houvesse plantado uma mensagem cifrada em pleno interior das promessas da New Age, negando-as todas, desmentindo-as todas, e cá estamos nós finalmente em condições de decodificar tal mensagem enquanto nos defrontamos com o nosso destino. O efeito disso, nesses dias que correm, é incerto. Mas pode ser que eu esteja exagerando; talvez seja esta uma interpretação impactada por alguns dias extenuantes. Em todo o caso, recomendo parcimônia na apreciação desta música: que fique reservada para alguns poucos momentos mais especiais, fins de tarde em que não se esteja muito cansado, com um pôr do sol radiante como fundo de abertura e um cair da noite suave como desfecho.
Michael Formanek - The Rub and Spare Change
Diferente do que acontece com os outros gêneros musicais com que sinto afinidades, em se tratando de jazz eu costumo escutar quase que exclusivamente aos mesmos velhos grupos e artistas de sempre, e dificilmente saio em busca de coisas novas. Monk, Miles, Coltrane, Charlie Haden, Cecil Taylor, Keith Jarrett, Alice Coltrante, Pharoah (que até pouco tempo atrás eu achava que se escrevia Pharaoh) Sanders, Ornette Coleman, Dave Brubeck, Vince Guaraldi, Sun Ra… Essas figuras tarimbadas compõem e delimitam meu universo jazzístico, e as exceções que me ocorrem — os artistas contemporâneos cujos lançamentos eu tento acompanhar — são pouquíssimos: John Surman, Jan Garbarek, Avishai Cohen e os grupos Time Is a Blind Guide e Necks, creio que sejam apenas estes, fazendo-se as ressalvas de que o Necks talvez já não possa mais ser enquadrado em gênero algum e que Surman e Garbarek não são exatamente garotões e poderiam muito bem estar no grupo dos veteranos citados antes (Garbarek, inclusive, tem discos gravados em parceria com Keith Jarrett, e é apenas dois anos mais novo do que ele; um numa lista e outro na outra não é, contudo, arbitrariedade total: tenho a impressão que Garbarek [e Surman] cabem melhor no capítulo mais contemporâneo do jazz, aquele dos personagens que já usufruem das trilhas abertas anteriormente pelos pioneiros). Fora estes, somados talvez a dois ou três outros que falhei em recordar, eu não costumo ir atrás de novidades, mas acontece vez ou outra de me passar pela frente algo cujos indícios me deixam curioso, e resolvo arriscar. Exemplo recente é este incrível The Rub and Spare Change. Um disco de jazz moderno, quando é bom, geralmente é assim: altamente inventivo e incansável. Assim o são, também, os dois discos do Time Is a Blind Guide citado acima; já o norueguês Trygve Seim, cujo disco Helsinki Songs escutei dias atrás, esse eu achei de uma sensaboria total. Trygve tem uma aparência singular, poderia perfeitamente passar por membro de uma banda de post metal ou coisa do gênero, aquele que sempre aparece nas fotos trajando uma camiseta velha do Rainbow e uma lata de cerveja na mão. Poderia ser roadie do High on Fire ou do Neurosis, ou o camarada que testa os microfones e as guitarras antes do show começar. Ou talvez, quem sabe, Trygve more numa cabana isolada com vista privilegiada para lagos, montanhas e auroras boreais, cenário onde sua música — e qualquer outra — deve soar muito especial… Seu nome e nacionalidade suscitam essas curiosidades e especulações todas, mas sua música, francamente, me desapontou. Michael Formanek, embora seja apenas um Michael qualquer, faz algo que achei muitíssimo melhor. Que tipo de coisa será que Formanek vê das janelas de sua casa? Ou será apenas uma questão de heranças, de consanguinidade? Seja lá o que for, adicionei Formanek ao time dos jazzmen contemporâneos que acompanho com interesse.
Vários - The Wandering II Compilation
Três horas e meia de desterro total, de paz e alegria, ou algo alheio à paz e à alegria e aos seus opostos, o que provavelmente é ainda melhor.
Comentários:
Não há nenhum comentário.
(Não é mais possível adicionar comentários neste post.)
